História da Idade Media
 Estimados, o texto que segue é um resumo da Obra "A Idade Média. Nascimento do Ocidente" de Hilário Franco Júnior. A História é uma ciência que muito me atrai, pois possibilita entender o caminho percorrido pela humanidade (ou parte dela) até nossos dias. Sabemos das implicâncias que contar a história implica, mas, mesmo assim, omitir o pouco que é possível saber dela não nos parece virtuoso.
Estimados, o texto que segue é um resumo da Obra "A Idade Média. Nascimento do Ocidente" de Hilário Franco Júnior. A História é uma ciência que muito me atrai, pois possibilita entender o caminho percorrido pela humanidade (ou parte dela) até nossos dias. Sabemos das implicâncias que contar a história implica, mas, mesmo assim, omitir o pouco que é possível saber dela não nos parece virtuoso.
A Idade Media vem sendo
redescoberta dentro do seu valor histórico para toda a humanidade. Outrora
considerada como Idade das Trevas, emerge agora com seu rosto genuíno, nem
melhor, nem pior que outras épocas, mas simplesmente como uma época, com homens
e acontecimentos próprios dos homens. “O período tradicionalmente conhecido
como Idade Média abrange cerca de um milênio, durante o qual um conjunto de
caracteres marcantes e específicos criou uma personalidade histórica própria,
que nos permite falar dela diferencialmente em relação a outras épocas”
(p.11). Definir seu início e término não
é tão necessário, nem mesmo fácil. “Já se falou em 476 (deposição do último
imperador romano), 392 (oficialização do cristianismo) ou 330 (reconhecimento
da liberdade do culto aos cristãos) como ponto de partida da Idade Média. Para
seu término já se pensou em 1453 (queda de Constantinopla e fim da Guerra dos Cem
Anos), 1492 (descoberta da América) e 1517 (início da Reforma Protestante)”
(p.11). Enfim, o que realmente importa
são as suas características peculiares e próprias.
Idade Média: “o termo expressava
um desprezo indisfarçado pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica
e o próprio século XVI” (p.17). Para o século XVII “os séculos medievais’
também eram vistos como de barbárie, ignorância e superstição. Os protestantes
criticavam-nos como época da supremacia da Igreja Católica. Os homens ligados
às poderosas monarquias absolutistas lamentavam aquele período de reis fracos,
de fragmentação política. Os burgueses capitalistas desprezavam tais séculos de
limitada atividade comercial. Os intelectuais racionalistas deploravam aquela
cultura muito ligada a valores espirituais” (p.18). A Idade Média não estava
interessada na sua história. Viviam com a ideia da história cíclica ou da
história linear com fim escatológico, por isso, não temiam o seu findar. Como
acreditavam estar vivendo na era moderna, não se interessavam muito por
caracterizar o passado, sendo que aquilo que tinham era o melhor. De modo mais
geral, não tinham horas bem determinadas, nem meses ou anos, pelo menos até
1582, com o calendário gregoriano (p.23).
A história demográfica medieval é
a história da presença e da remoção dos obstáculos que impediam a multiplicação
de sua espécie (p.25). Hoje se sabe que houve um aumento populacional na Idade
Média Central. A Idade Media em geral foi marcada por um acentuado movimento
migratório que era 1) habitual, 2) colonial, 3) por motivos extraordinários (pestes,
catástrofes climáticas, ...) e 4) migrações itinerantes, sem instalações
(p.28-29). Depois do movimento migratório, o segundo indício do crescimento
populacional são os arroteamentos realizados nos territórios do interior da
Cristandade (p.29). Terceiro indício: “aumento do preço da terra e do trigo”
(p.29). As transformações ocorridas pela arquitetura religiosa, principalmente
no que se refere ao tamanho, são mais um indício da densidade demográfica
(p.30). Um quinto indício da expansão demográfica do Ocidente cristão está no “acentuado
crescimento da população urbana naquele período” (p.31). A peste contribui, em
seguida, para a diminuição da população (cerca de 30%) no século XIV, que
voltou a mesma quantia apenas no século XVI.
Naquilo que se chama de Idade
Média Central verifica-se que ela “provocou importantes mudanças nos elementos
que tinham caracterizado a fase anterior. Em primeiro lugar, a passagem da
agricultura dominial para a senhorial” (p.47) que consistia na divisão de áreas
concedidas a senhores feudais, sendo que antes tudo estava sobre domínio do
Império. O senhorio era base econômica do feudo e o feudo a manifestação
politico-militar do senhorio. “O senhorio era um território, que dava ao seu
detentor poderes econômicos (senhorio fundiário) ou jurídico fiscais (senhorio
banal), muitas vezes, ambos ao mesmo tempo. O feudo, uma cessão de direitos,
geralmente, mas não, necessariamente, sobre um senhorio” (p.49). Uma segunda
transformação importante ocorrida nos séculos XI-XIII foi, “a partir de uma
existência de um excedente agrícola, o revigoramento do comércio” (p.50). A
terceira transformação econômica da Idade Media Central foi a Revolução
Industrial Medieval (p.53) que “nas cidades estavam organizadas em associações
profissionais que chamamos corporações de ofício” e nelas as “confrarias, isto
é, associações profissionais de pessoas para culto do santo patrono para
caridade recíproca entre seus membros” (p.54). Por último, a pregação que a
Igreja fez de dois princípios: “o distributivo e do de equilíbrio. O primeiro preocupava-se
com a repartição das riquezas e da renda” e o segundo “pretendia tornar justas
as relações econômicas entre os homens, daí sua preocupação coma usura e o
preço justo” (p. 57).
A Idade Media Central foi uma
época de mudanças, “de expansão econômica, o que levou parte da historiografia
por muito tempo a falar num ‘capitalismo medieval’” (p.58). Mas melhor
expressão para esta época pode ser “premissas do capitalismo” coexistindo com
outros sistemas. A Baixa Idade Média inaugurou um período de crise generalizada
(p.59) onde “verificaram-se, pelo menos, cinco períodos de fome generalizada em
quase todo o Ocidente, cada um deles de anos” (p.60). A situação é tão séria que o “século XIV e a
primeira metade do século XV foi uma fase de crise conjuntural, que provocaria,
porém, abalos estruturais. Dela sairia a economia moderna” (p.61).
Até aqui observamos um certo
‘imperialismo’ da História Econômica. Mas nem sempre seria assim, pois na mesma
Idade Media ao domínio do econômico contrapôs-se uma “pretensa supremacia da
História Social” (p.62). “Os primeiros séculos medievais conheceram uma
cristalização da hierarquia social, fenômeno que na verdade já se desenvolvia
anteriormente, mas que se completou apenas no século IV” (p.62). As camadas
medias urbanas viam-se esmagadas por dois fatores. O primeiro deles, o processo
de ruralização da sociedade romana, “resultava de sua contradição básica”
(p.63). O segundo fator era “um pesado conjunto de impostos que o Estado
cobrava para tentar manter a própria vida citadina” (p.64). Emerge, com o recuo
da escravidão, um novo tipo de trabalhador rural, o colono. “O colonus era juridicamente um homem
livre, mas verdadeiro escravo da terra” (p.65). Não podia vender ou abandonar
seu lote, mas também ninguém poderia tirar seu lote.
Neste contexto a sociedade passou
a ter dois polos: a dos proprietários fundiários de um lado e os camponeses
despossuídos de outro (p.67). Entre os fundiários tinham pequenos e médios
proprietários, a aristocracia laica (composta por famílias que há muito
detinham grandes latifúndios), a aristocracia eclesiástica (já no séc. V, depois
do Estado Romano, a Igreja era a maior proprietária de terras do Ocidente e no
século IX, detinha uma terça parte das terras cultiváveis do Ocidente cristão)
(p.67-68). No outro extremo da sociedade estavam os trabalhadores: os
assalariados, os colonos e os escravos (em decréscimo) (p.69).
Quanto à Idade Média Central, o
estudo de suas relações sociais nos remete diretamente a um dos mais
controvertidos temas da historiografia contemporânea: o do feudalismo (p.70).
Feudalismo “é uma totalidade histórica da qual o feudo foi apenas um elemento”
(p.71). Este nome “designa um tipo de sociedade com formas próprias de
organização econômica, política, social, cultural” (p.70). A Igreja teve papel
central neste tipo de organização legitimando “as relações horizontais
sacralizando o contrato feudo-vassálico e as verticais justificando a
dependência servil” (p.71). Este tipo de organização gerou miséria e,
consequentemente, muito descontentamento. Surgem as Cruzadas. Pretendiam
aliviar tal tensão. Mas com as derrotas elas ofuscaram a autoridade moral dos clérigos
e as legitimações pregadas podem ser contestadas (p.78). Muitos iam para as
Cruzadas para aumentarem suas posses, outros para adquirirem, mas a maioria
retornava só com a honra de ter lutado, sem nenhum ganho material. A
aristocracia caia. Surgiam os movimentos campesinos buscando a distribuição
comunal das terras (p.79), bem como aparece um segmento burguês nas cidades, sendo
este, antifeudal (p.80).
Algo interessante de se notar é
que muitas transformações vão acontecendo no pós Cruzadas. A mulher ganha
ascensão social, as ordens leigas adquirem força, o individualismo desponta. No
campo houve retrocesso demográfico, econômico e a ascensão de uma elite
trabalhadora (p.84). Na cidade houve reforço do poder da burguesia e aumento de
trabalhadores sem emprego ou mal remunerados, devido ao crescimento de seu
número (p.85). Houveram muitas “revoltas urbanas pelo controle do estado, em
processo de afirmação, fosse ele comunal, senhorial ou nacional” (p.86).
Na história política medieval pode
se constatar essências diferentes em cada fase. Vejamos: “nos séculos IV-VIII a
unidade política romana foi substituída pela pluralidade dos reinos germânicos”
(p.87). No século IX restabeleceu-se uma relativa unidade com o Império de Carlos
Magno. Nos séculos X-XIII o Império tornou-se apenas uma ficção. Nos séculos
XIV-XV “aquele processo de revigoramento das monarquias se acentuou muito,
graças a uma maior identificação do Estado comum determinado território e suas
características étnicas e linguísticas” (p.88). O Império Carolíngio que
parecia ter unificado em um único governo logo se fragmentou novamente. Era
excessivamente personalizado e fraco estruturalmente. Foi por isso que acabou
desembocando numa pluralidade política com os netos de Carlos Magno. Ele não
tinha unidade orgânica, promoveu a difusão da vassalagem dando terras e
debilitando a fonte do poder monárquico, fundiu poder temporal com poder
espiritual na pessoa do Imperador contrapondo-se posturas, e não pode conter as
invasões dos séculos IX-X mostrando sua debilidade (p.93). A nobreza ia criando
seus próprios impérios e o Império cobria-se de castelos dando origem, no
século X, à Europa (p.94). Até o fim da Idade Media Império, Igreja,
monarquias, feudalismo e – um pouco mais tarde – as comunas, serão os
personagens políticos que manterão a cena (p.94).
A Igreja compreende-se como
detentora do poder imperial do Ocidente e rivalizará com o Império, ora menos, ora
mais. O imperador, quando coroado pelo Papa, adquirirá caráter sagrado. Em
meados do século XIV as assembleias representativas ganham força, pois os
monarcas buscam apoio para suas decisões (uma vez que a Igreja se opunha em
certas ocasiões) e outras queiram evitar abusos da realeza (p.99). E este “conceito de representação política é
uma das grandes descobertas dos governos medievais” (p.99). Neste caminho
surgem as comunas (nas cidades e nas zonas rurais) “uma associação igualitária
(quebrando hierarquias internas) e por isso uma ‘conjuração’ contra o exercício
dos poderes senhoriais” (p.102). Mas esta também busca um caminho não tão
popular, pois quanto mais “escapava ao poder do antigo senhor, mais ela se
feudalizava, isto é, usava em benefício próprio (ou seja, de seus dirigentes) a
nova condição” (p.103-104). Entre muitos conflitos e enfrentamentos “a
tendência era para a afirmação do Estado-nação” (p.106).
A Igreja chega ao seu auge
justamente na Idade Media Central. Queria, com a organização da hierarquia
eclesiástica, consolidar a recente vitória do cristianismo. Aproximava-se dos
poderes políticos por causa de seus interesses, ora mais, ora menos louváveis.
Numa terceira fase, quase erigiu uma teocracia que esteve em vias de se
concretizar em princípios do século XIII. Mas toda essa ambição terminou na “sua
maior crise, a Reforma protestante do século XVI” (p.107-108). A Igreja foi
personagem de suma importância neste período da história Ocidental. Há quem
diga que da articulação entre romanos e germanos que a Igreja estabeleceu,
sairia a Idade Media (p.108).
Num tempo em que o clero se
aburguesa e se mistura à administração do Império deixando a orientação
espiritual dos fieis, surgem as Ordens monacais: os Beneditinos (534), a Ordem
de Cluny (séc.X), os Cistercienses (1098), os Franciscanos e os Dominicanos.
Estas Ordens, primeiramente, contestavam a vida pouco cristã dos clérigos,
depois algumas foram encarregadas das Cruzadas, um movimento que a Igreja
criara para conquistar a “Terra Santa” e manter o poder papal. Outras, como os Franciscanos,
tentaram reformar a Igreja num espírito de pobreza e fraternidade (p.111-122).
Parece estranho aos nossos tempos, mas “a grande questão da Igreja na Baixa
Idade Media foi um prolongamento da antiga disputa entre poder espiritual e
poder temporal” (p.123) tendo como posição contrária a este cenário as ordens
que mencionamos. Tão fortes eram as
relações entre o “Estado” e a Igreja e as disputas entre ambos que, de 1309 a
1377, o papado se transferiu para Avignon (França) estando sobre um relativo
controle da monarquia francesa (p.123). De 1378 a 1417 houve sérias divergências
dentro da hierarquia eclesiástica levando ao Cisma do Ocidente. Teve-se dois
papas reinantes, um em Roma e o outro em Avignon (chegou-se a ter um terceiro, inclusive, em Pisa). Assim, no
século XIV a Igreja estava desacreditada e a figura do papa mais ainda. Embora
se reunificando, não tinha o poder de antes (p.124). A Igreja buscou o poder
temporal e foi traída por ele mesmo.
No meio de todas essas situações
pode se observar outro aspecto de importância capital: o cultural. “Na primeira
Idade Media, as dificuldades da época estabeleceram caracteres culturais que se
manteriam, com variações de intensidade, nos séculos seguintes” (p.127). São
elas: alargamento do fosso entre a elite culta e a massa inculta; separação
entre clérigos e laicos; uma época convulsionada politicamente, enrijecida socialmente,
empobrecida economicamente e, síntese disso tudo, limitada pelo seu
‘absolutismo religioso’; ressurgência de técnicas, crenças e mentalidades
tradicionais, pré-romanas; (p.127).
A Igreja possuía o monopólio da
cultura intelectual. Os clérigos educavam os seus pares em vista do culto, nas
escolas monacais e catedráticas (p.128). À população restava cultivar saberes folclóricos.
Nos mosteiros havia os copistas que, principalmente em vista da filosofia e
teologia, compilavam obras antigas em língua latina. Latim era a língua usada
pela Igreja. O povo falava “dialetos derivados do latim bárbaro ou germânico”
(p.132). O “Renascimento Carolíngio, fato fundamental para a cultura medieval
estabeleceu um texto bíblico único” (p.132) em latim. Ele também “reviu as
obras litúrgicas, preparando o fim da diversidade de ritos existentes na
Cristandade Latina” (p.132). Com uma Igreja erudita ocorre a folclorização de
elementos cristãos e mesmo de simples eventos. O povo encontra explicações mais
simples para o que não compreendia. A Igreja combate este folclore que chegou a
honrar um cão como santo e delimita que é ela quem faz “história” (p.133-134).
É uma característica do feudalismo.
Na arquitetura há primeiramente a
arte românica que mistura elementos da cultura vulgar com a eclesial, homens e
animais sofrem simbiose nas esculturas, por exemplo. Segue-se o gótico, mais
urbano, e procura harmonizar fé e razão (p.135). Na literatura o latim e o
vulgar estabelecem a linha divisória entre o erudito e o popular na cultura
(p.136) sendo que “a literatura medieval em língua vulgar está mais impregnada
de elementos folclóricos do que em qualquer outra época” (p.132). Havia também,
a moldagem do tipo de homem a ser imitado. “A literatura criava um tipo ideal
que a Igreja esperava ver concretizado nas Cruzadas: o herói tornava-se o
correspondente laico do santo” (p.137). A “obra de Dante Alighieri, escrita
entre 1307 e 1321, mas de espírito pertencente ao século XIII, é talvez o maior
painel existente sobre a Idade Media. Era o grande manifesto da laicização da
cultura” (p.140) sintetizando pensamentos anteriores e atuais colocando os
personagens da história no Inferno, no Purgatório e no Paraíso.
As universidades tornam-se, pouco
a pouco, laicais, sem deixar de existir as grandes universidades eclesiais. Com
o tempo também as laicais assumem a ideologia dos Impérios, sendo acessíveis
para os nobres, apenas. Teologia era o curso de maior prestígio. Havia também,
medicina, direito canônico e civil. A filosofia estava sempre presente
(p.141-146). Na teologia e filosofia se destaca Tomás de Aquino. Ele “reinseriu
o aristotelismo numa linha cristã, adequando melhor o pensamento da Igreja às
novas condições socioculturais da época” (p.146).
Junto aos aspectos que fomos
entendendo até aqui se junta o pano de fundo mental, ou seja, “o nível mais
estável, mais imóvel das sociedades” (p.149). A história está envolta em
acontecimentos certificáveis no percurso do tempo, mas é apenas uma face da
história. É o pensamento de cada época e de cada grupo social que movimenta o
acontecer na história. Podemos chamar também de conteúdo imaginário de cada
população, tão expresso nas imagens que a mesma produz.
Referente à Idade Media é
importantíssimo perceber que os homens desta época tinham uma visão
sobrenatural do Universo, centrada em Deus. O “referencial de todas as coisas
era o sagrado, fenômeno psicossocial típico de sociedades agrárias” (p. 150).
Antes de tudo, a Divindade representava uma segurança psicológica (p. 151) e
envolvia todas as fases da vida das pessoas. Práticas mágicas eram muito
presentes. A Igreja institucional agia e também outras pessoas que eram
denominadas bruxas, feiticeiras (p. 154). O clero lutava contra todas as
práticas religiosas que não estivessem sob autoridade da Igreja. Havia, neste quadro, a magia divina (dos
santos) e a diabólica (dos feiticeiros e bruxas). Era um mundo de símbolos e
significados onde o próprio homem era um símbolo (p. 158). Resumindo: “o
simbolismo era a forma de expressão do homem medieval padrão, o caminho para a
exteriorização de seus sentimentos mais profundos” (p.160) e onde o homem
medievo se encontrava.
Todo esse modo de ver o mundo era
tão importante a ponto de eles considerarem que “não existiam forças e
elementos éticos neutros: todos tinham uma relação com o conflito cósmico do
bem e do mal e participavam da história universal da redenção” (p.160). O homem
era o soldado de Deus na terra. A Guerra Santa foi um modo que a Igreja
Medieval assumiu para estabelecer a paz universal, por exemplo. Isso soa
estranho ao homem pós-moderno. Entretanto, não cabe a nós julgar, embora não
concordemos. “O belicismo da mentalidade medieval decorria da presença
constante daquelas encarnações, benéficas e maléficas, que prolongavam no palco
terreno a luta que envolvia todo o universo” (p.160) e isto não se pode ignorar.
O que eles empreendiam, o faziam crendo ser estava à vontade de Deus. “O Cristianismo
guerreiro da idade Media só pode ser considerado ‘contraditório’ por uma
análise anacrônica” (p.160).
A Igreja também tentou dirigir a vida
sexual das pessoas. Passou a pregar uma ascese de todo o corpo. Para a maioria
dos medievais a santidade se dava numa vida monacal ou eremita. Para os demais,
a peregrinação aos lugares santos cumpria esta função (p.162). As Cruzadas se
inserem neste contexto de ascese. As pessoas combatiam belicamente contra si
mesmas, para extinguir as forças do mal que as tentavam. Isto atingiu seu auge
na Baixa Idade Media com o movimento dos flagelantes (p.163). Deste belicismo
derivou o contratualismo que consistia em relações com o espiritual em forma de
trocas recíprocas de graças e favores. Foi feito de maneira coletiva até o
século XII e depois derivou para a esfera individual. (p.165). As procissões aos
santuários são um exemplo (p.166).
Quanta coisa para se revisitar! A
Idade Media possui um significado em si mesma. A modernidade muitas vezes, por
meio de seus representantes, orgulhosamente, se dizia ter superado sua
precedente, mas a verdade é que ela continuou os passos da Idade Media como é
comum na história. Assim se aplica muito bem a imagem de que os tempos modernos
é o filho ingrato da Idade Media (p.171). Renascimento, Protestantismo,
Descobrimentos, Centralização Política no soberano do Estado (quatro movimentos
que se convencionou considerar inauguradores da Modernidade) são de fato medievais
(p.171), gerados no seio deste tempo. Também o chamado Antigo Regime (monarquia
absolutista, sociedade estamental, capitalismo comercial) tiveram suas raízes
nestes séculos (p.172). Da mesma forma as “características que a
civilização ocidental atualmente se
atribui – democracia no plano político-social, racionalismo no
econômico-científico, universalismo no mental-cultural – têm origens medievais”
(p.174). Resta-nos lembrar da religiosidade cristã encontrando-se com a
racionalidade. Também do materialismo resultante da ciência e do pragmatismo
que o desenvolvimento experimental vai proporcionando. Conclui-se, pois, que a Idade
Media está mais presente nas épocas que lhe sucederam do que se admite. E que
entre a tendência a exaltá-la ou condená-la, vale buscar uma terceira via:
compreendê-la.

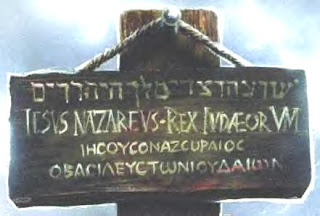
Comentários
Postar um comentário