HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DA IGREJA.
Estimados, o texto que segue é um resumo da Obra
"HISTÓRIA DA IGREJA. De
Lutero a nossos dias. Vol IV – A era contemporânea" de Giácomo Martina.
A Igreja sempre esteve, de
diversos modos, envolvida nas questões sociais. No decurso do século XIX e
primórdios do século XX vemo-la tendo posições variadas e, às vezes, pouco
conhecidas. Neste período temos dois fenômenos complementares que caracterizam
a vida técno-econômico-social: “de uma parte assistimos a um imenso progresso
técnico, industrial, comercial, primeiro nos países europeus, mais tarde em
todos os continentes, com inumeráveis repercussões psicológicas e sociais”
(p.25); e, de outra a realidade de que “esse tão grande incremento somente
depois de vários decênios é que levou a um aumento do bem-estar geral a uma
elevação de vida de todas as classes” (p. 26).
A gênese da questão social pode
ser identificada no liberalismo econômico e na revolução industrial. As grandes
descobertas científicas e a aplicação na indústria têxtil criaram a grande
indústria moderna (p.28). Disso tudo, fomentado pelo capitalismo, resultou
naquilo que a escola de Manchester delineou como “amoralismo econômico, livre
concorrência, absenteísmo estatal e individualismo” (p. 29). Contra esta
avassaladora e desumana posição das indústrias e do sistema capitalista se
posicionaram algumas tentativas laicas como o socialismo utopista, o
sindicalismo e o socialismo científico. Os católicos tiveram um lento despertar
diante dos problemas sociais. O magistério se mostrou ainda mais inerte, no
entanto, com desenvolvimento crescente. Assim, a posição social da Igreja pode
ser vista como possuindo três fases em sua evolução: “até 1870 (se quisermos:
até a morte de Pio IX, 1878); os primeiros anos de Leão XIII, até a publicação
de Rerum Novarum, em 1891; da Rerum Novarum aos nossos dias” (p. 42).
Podemos dizer que “na primeira fase, as doutrinas e as iniciativas se
desenvolvem, sobretudo, na periferia: Roma não oferece obstáculos, mas não
encoraja e não dá diretrizes, limita-se apenas à condenação negativa” (p. 46).
Na segunda fase os problemas sociais se acentuam e várias posições vão surgindo
por parte de clérigos e católicos em vários lugares do mundo e de Roma. É o
convencimento de parte dos católicos de que o sistema caritativo-assistencial
era insuficiente, embora tivesse seus méritos frente à crueldade dos
empresários. O que faltava, entretanto, era encontrar “o caminho oportuno com
referência ao associacionismo operário, à intervenção estatal e à determinação
do justo salário: os três problemas mais discutidos nos anos que precedem a Rerum Novarum” (p. 48). Com esta
encíclica de Leão XIII, a Igreja reunia “os frutos de quase cinquenta anos de
estudos e discussões” (p. 54). Foi forte para a época e uma posição corajosa em
defesa dos operários espoliados. Leão XIII, embora se limitando a por os
sindicatos no mesmo plano das corporações, sem reservas específicas, “indicou
efetivamente o início da vitória do sindicalismo sobre o corporativismo no seio
do catolicismo social” (p. 55). Isso significou “a adequação corajosa da Igreja
às novas exigências, a encarnação dos valores cristãos nas novas estruturas
exigidas pela época, a aceitação por parte da verdade contida no marxismo”, em
outras palavras, “a distinção entre a luta de classes permanente e a legítima
ação de resistência em defesa dos próprios direitos” (p. 55). Na terceira fase
vemos lugares em que a Rerum Novarum
foi recebida com entusiasmo e outros nos quais ficava quase desconhecida. Mas
ela foi um instrumento eficiente da Igreja no âmbito social e uma força para os
sindicatos cristãos. Três anos depois, Pio XI lançou a Quadragesimo Anno que “constituiu um passo adiante em relação à Rerum Novarum, afirmando o autêntico
direito do operário a um salário não só individual, mas familiar”
(possibilidade de superação do contrato salarial substituído pela co-gestão)
“sublinhando o perigo dos monopólios”, “confirmando a necessidade de substituir
o estímulo incontrolado da livre concorrência pela do bem comum, admoestando,
enfim, (...) a frear a ingerência do Estado na economia” (p. 64).
Muitos aspiravam a uma reforma da
Igreja e “um programa de uma ação social mais nítida que superasse os estreitos
limites aos quais Leão XIII havia restringido a democracia cristã, designada na
encíclica Graves de communi (1901)
como ‘benéfica ação cristã a favor do povo’” (p. 77). Entrando no Modernismo do
século XX a Igreja se chocava com um sentimento de mal-estar e com uma ânsia de
atualização no sentido positivo. Criticada e descartada várias vezes por sua
lenta atividade social, perde para a razão e o sentimento interior, a posição
balizadora da vida das pessoas e da sociedade. Os modernistas tendiam a, “no
mínimo, relativizar o momento intelectual das fórmulas da fé e do dogma” (p.
80). Separa-se razão e fé, e faz da última, algo não histórico. Os modernistas
radicais propõem uma renovação, a volta ao jansenismo e a desobediência à
hierarquia. São principais representantes: Alfred Loisy (1857, França), exegeta
e historiador; George Tyrrel (1861-1909, Inglaterra), filósofo e teólogo;
Friedrich von Hügel (1852-1925, Aústria); Tommaso Gallarati Scotti, Stefano
Jacini, Alessandro Casati (Itália); Ernesto Buonaiuti (1881-1946, Itália),
professor; Romolo Murri (1870-1944, Itália), sacerdote; Umberto Benigni (1909,
Itália), professor; e vários outros. Não se deve esquecer que junto às
tendências extremistas de tais personagens, “junto aos diversos sacerdotes que,
na Itália e em outros lugares, deixaram a Igreja naqueles anos, havia toda a
ala moderada do movimento, na qual uma segura fidelidade a Roma se unia à ansiedade
por responder às novas exigências dos tempos” (p. 90-91). A hierarquia reagia a
alguns destes autores e seus movimentos antieclesiais ou, mesmo, apenas
sociais. A Congregação do Index advertiu e desautorizou muitas das obras
publicadas. Em setembro de 1907 é publicada a encíclica Pascendi Dominici gregis em que no modernismo é condenado e
definido como síntese de todas as heresias (p. 94). Em novembro do mesmo ano é
publicado o Moto Proprio Praestantia
Scripturae que “comunicava a excomunhão a todos aquele que se opusesse à
encíclica” (p. 96). Em 1909 o Moto Proprio Sacrorum
Antistitum “impunha a várias categorias de pessoas um especial juramento
antimodernista” (p. 96). “Ao lado dessa obra de repressão indiscriminada e de
fechamento hermético às correntes intelectuais não estritamente confessionais e
tradicionalistas, desenvolvia-se uma outra dupla ação, um encorajamento
positivo aos estudos e uma consolidação de toda a disciplina da Igreja, que
truncava qualquer pretensão de movimentos autônomos entre o laicato” (p. 100).
Isso mudou com Bento XV, que “desde sua primeira encíclica tomou posição tanto
contra os modernistas quanto contra os integristas”.
Quando Pio X foi eleito demonstrou
ser “favorável a uma radical reorganização tanto da legislação eclesiástica
como do sistema do governo pontifício” (p. 109). A reforma na Cúria começou
pela reorganização e supressão de várias congregações anacrônicas e confusas.
Depois de trezentos anos ela é organizada a fim de ser mais racional e eficiente.
Quando ao direito, seguindo toda a influência napoleônica e liderados pelo
cardeal Gasparri, uma comissão de juristas e 25 consultores trabalharam
incessantemente. A maioria dos bispos pôde ter acesso aos livros e opinar.
Assim, em 27 de maio de 1917, o novo código foi promulgado e entrou em vigor no
ano seguinte. Ele favorecia a centralização e a uniformidade, mostrava-se
prático e ideal, mesmo que ficasse devendo muita coisa como, por exemplo, a
definição de quem são os leigos e dos seus direitos e deveres na Igreja.
A Igreja diante do nacionalismo e
do totalitarismo viu-se num cenário difícil e escuro. O “nacionalismo assumiu
diferentes formas nos diversos países, mas por quase toda parte transformou o
amor da pátria no culto idolátrico da pátria, que fecha o Estado numa autarquia
espiritual e material e regula a política internacional na base da violência”
(p. 122). O Totalitarismo é um
sistema político no qual o Estado não reconhece limites à sua autoridade e se esforça
para regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada, sempre que
possível. Foi “sobre o nacionalismo dos primórdios do século XX, que constituiu
um dos fatores principais do primeiro conflito mundial, é que se inseriu o
totalitarismo dos vinte anos seguintes” (p. 122). Diante do nacionalismo
nos primórdios, muitos na Igreja, se viram por ele atraídos. Mas com os
horrores que no decurso foi causando, foram se dando conta do sua
incompatibilidade com a fé católica. Em relação ao totalitarismo pode se distinguir
entre o de esquerda e o fascismo. Quanto ao primeiro, “a oposição da hierarquia
e da grande maioria dos fieis foi sempre nítida e constante; já em relação ao
fascismo, em suas diversas formas, a Igreja seguiu uma linha ondulante” (p.
125). Referente à primeira guerra
mundial viu-se um grande jogo de interesses e confusão na compreensão do
drástico evento, dentro e fora da Igreja. “Nesse contexto geral emerge a
grandeza de Bento XV, disposto a desafiar qualquer impopularidade para realizar
sua missão de paz” (p. 133), envolvendo-se diretamente no pedido da interrupção
da guerra. Em 1922 é eleito Pio XI. Ele se destacará por sua “condenação ao
laicismo, a sua luta pela liberdade da Igreja, mas também do homem” (p. 141) e
a convicção de que a salvação do homem se dá apenas pela Igreja. L’Action Française, “um movimento que,
por seu caráter complexo e aparentemente cristão, tinha gozado por muito tempo
de grande tolerância e até de uma aberta aprovação por parte de muito
eclesiásticos” (p. 142), desafia a Igreja por seu nacionalismo e ateísmo. No
México, entre 1917 e 1929, assiste-se ao “esforço de uma minoria (composta de
altos militares e de advogados ou juristas) em erradicar do país, em sua grande
maioria profundamente católico, se não a própria fé cristã, ao menos toda a
influência social da Igreja, bem como a vigorosa resistência da maioria” (p.
147).
No que diz respeito à Igreja e o
fascismo o Tratado de Latrão é o grande espinho que ficou na história. Pio XI
na Itália assumiu “uma atitude de prudente otimismo” (p. 153), pois o fascismo
“multiplicava naqueles anos os seus protestos teóricos e práticos de respeito
pelo catolicismo e se apresentava como a salvaguarda da ordem constituída, a
qual tinha, contudo, escondido sempre profundas injustiças” (p. 153). O Tratado de Latrão, assinado em 11 de
fevereiro de 1929, às 12 horas, no palácio de Latrão por Gasparri e Mussolini
compreende um tratado e uma concordata (p. 157). Reconhecia-se o novo Estado da
Cidade do Vaticano, encerrava a Questão Romana, declarava a religião católica como
a única do estado italiano, garantia à Santa Sé o direito de legação ativa e
passiva, a liberdade nos conclaves e nos concílios, dava privilégios aos
eclesiásticos, entre outros. Tudo isto foi bem visto inicialmente, mas depois
passou a ser encarado como uma aliança entre a Igreja e o fascismo. Bom, “em
síntese, 1929 não merece nem a exaltação triunfal que a opinião pública em sua
maioria então lhe atribuiu, nem o ataque impiedoso que desde então se
desenvolveu cada vez mais” (p. 164). E o que se pode dizer, então? Que este ato
“constitui, sim, uma etapa de uma evolução, não desprovido de vantagens nem
isento de perigos, e, naquele momento, foi, no conjunto, substancialmente
positivo, ainda que alguns de seus elementos tenham logo se revelados caducos” (p.
164). No que diz respeito à relação com o nazismo, tais relações “tiveram dois
momentos fortes de tensão: em 1931, com as ameaças contra a ação católica, e em
1938-39, com as primeiras aplicações raciais que, prescindindo-se de outros
aspectos, violam um dos pontos da concordata” (p. 165). Referente ao nazismo, a
Igreja procurava meios de sobreviver dentro deste sistema. Para isto assinou
uma concordata com o Reich, alguns
dias depois do nazismo ter instituído a lei de esterilização. Os conflitos se
acentuaram. A Igreja condenava o caráter totalitário do regime, as suas
pretensões monopolistas sobre a educação, a sua doutrina e a sua concepção
geral da vida. Depois veio a questão do anti-semitismo. Pio XI se posicionou
dizendo que para o cristão isto era inadmissível, pois “espiritualmente somos
todos semitas” (p. 180). Os bispos na Alemanha se dividiram entre os que
simplesmente protestavam e os que defendiam uma ofensiva. Isso não teve muito
impacto de nenhuma parte. A Espanha no início do século XX passou da monarquia
à república e nesta teve uma guerra civil. Em tal guerra a Igreja foi
prejudicada com um anticlericalismo radical. Quando ocorre o advento da vitória
franquista (1938) as relações começam a se reestabelecer.
A Igreja, sob condução de Pio XII,
entre os anos de 1939-45, enfrentou a segunda guerra mundial. O papa
“apresentou a proposta de resolver pacificamente os problemas mais graves; a
ideia, aceita de bom grado por Mussolini, logo se esvaneceu pela frieza e
oposição dos outros Estados” (p. 208). Ele defendeu Roma e buscou socorrer os
atingidos. Preferiu calar e defender os judeus silenciosamente. Assim fez a
Igreja neste período, fato que lhe remete muitas críticas e ataques. Mas, “o
motivo que levou Pio XII a se limitar a condenações normalmente genéricas foi,
como se disse, o temor de represálias dos alemães sobre os católicos e sobre os
próprios judeus” (p. 212). É preciso ainda recordar os mártires católicos que
mostraram sua posição profética em meio à guerra. Em países como Itália, França,
Croácia e Alemanha muitos religiosos e sacerdotes foram assassinados. Também é
verdade que alguns, por inocência ou não, coadunaram com muitas crueldades.
No pós-guerra (1945-1958) “a
Igreja saia da tempestade com renovado prestígio” (p. 233) devido à sua atuação
em defesa do povo. Ansiava-se por renovação em seu seio. Com o fim das
colonizações a Igreja centrou-se nas dioceses. Muitas vezes eclesiásticos se
mostraram contra a descolonização, parte triste desta história. Referente a
Israel Pio XII manifestou-se enfaticamente pedindo a internacionalização de
Jerusalém, o livre acesso aos lugares santos e garantias sobre a liberdade de
culto público. Mas o papa viria a falecer sem ver isto concretizado. Na Europa
oriental o comunismo perseguiu a Igreja por cerca de quarenta anos. As
concordatas com alguns países foram desfeitas e a Igreja passou a ser sempre
perseguida. Na Itália o comunismo marxista assustou na Igreja que promulgou excomunhão
para quem votasse no Partido Comunista. Enfrentando algumas candidaturas deste
partido a Igreja viu sua influência enfraquecer e a laicização da Itália
crescer. Em 27 de agosto de 1953, a Igreja assinou uma concordata com a Espanha
alimentando o velho sonho de retorno à cristandade. Conseguia, principalmente,
a influência na educação onde a hierarquia controlava o ensino, salvaguardava o
matrimônio, a pastoral no exército, nos hospitais, na propaganda através dos
meios de comunicação (p. 258).
Todos estes processos
influenciaram na Igreja. Percebe-se que “o pensamento católico no período
bélico e pós-guerra apresenta uma orientação mais aberta em certos setores da
periferia e uma linha mais cautelosa no centro (Vaticano e grandes instituições
romanas)” (p. 260). De alguma forma, em toda Europa, voltavam à tona “motivos
já emersos na controvérsia modernista: a oportunidade de uma renovação
teológica, de uma aproximação do mundo contemporâneo, a exigência da superação
não do tomismo, mas do escolasticismo, a preocupação de um retorno aos Padres”
(p. 263). Pio XII não gostava muito de colaboração, geralmente as mudanças
partiam dele mesmo e do seu pensamento. Muitos queriam uma reforma do sistema e
não no sistema, mas Pio XII revolucionou apenas com a abolição do jejum
eucarístico e a introdução das missas vespertinas (p. 269). Enfim, perante as
mudanças desta época a Igreja na Europa se vê cada vez menos influente. Na
Europa oriental (e na China, no Vietnã...) a Igreja vive uma autêntica
perseguição. Na Itália a Igreja tenta impor a restauração de um Estado cristão.
Esforço em vão. Na Espanha se pensava ter conseguido um avanço com a concordata
de 1953, mas isso foi ilusão, pois o laicismo se mostrou crescente. Ao homem do
princípio da segunda parte do século XX a Igreja se mostra diacrônica.
O concílio trouxe renovação, mas
também trouxe crise. A secularização crescia no mundo todo, em especial na
Europa, surge uma onde avassaladora de migrantes. O mundo é outro. O Vaticano
não continuará sendo o mesmo. O Concílio redefine congregações e setores
administrativos, impõe idades limites aos bispos e cardeais e apela à
colegialidade. Nasce o novo Código de Direito Canônico mais sensível às
necessidades atuais da Igreja. A liturgia é reformada e, em níveis de opinião
geral, é mais bem acolhida e comentada. Esta abre também caminhos de
enrijecimento por quem não aceitava as mudanças, bem como de relaxamento por
quem não entendeu o que estava acontecendo. A catequese, embora de forma mais
lenta, também passou por renovação. Em relação aos institutos religiosos viu-se
um decréscimo acentuado no número de membros e um número grande de
desistências. Frentes carismáticas surgiram com força, bem como as comunidades
de base na América Latina. Na Itália a Ação Católica se opõe ao movimento de
Comunhão e Libertação. Os problemas religiosos alcançaram a mídia e, na Igreja,
há um novo despertar para a teologia bíblica. A Igreja pós Vaticano segundo se
viu ainda mais separada dos Estados. Concordatas forma reduzidas e até
extinguidas. Quanto a Israel, da solicitação da internacionalização territorial
de Jerusalém com Pio XII, “passou-se ao claro reconhecimento do direito dos
judeus e dos palestinos de terem seu Estado separado e independente (Paulo VI)
à exigência de garantias internacionais não somente para os lugares sagrados
cristãos, mas para as três confissões interessadas” (p. 351). A Igreja teve que
enfrentar a crise moral dos anos 1963-89. Questões como aborto, eutanásia,
dissolubilidade do Matrimônio e recusa da Confissão vieram a xeque. O caso Lefebvre, um conservador que recusou
as reformas do Concílio, causou dor e divisão na Igreja. Ele foi excomungado e
começou um pequeno cisma. Na América Latina as conferências episcopais
ocorridas em Medellin (1968), Puebla (1979) e Santo Domingo (1992) deram novo
impulso a Igreja e ajudaram a se posicionara contra os regimes militares e o
capitalismo que avassala principalmente com os pobres. Enquanto isso, na velha
Europa, a Igreja se via cada vez mais encolhida e quase que ignorada por alguns
Estados. Tudo isso são características que acompanham a Igreja nos últimos
trinta anos e as quais o Concílio Vaticano II tenta dará respostas até hoje.

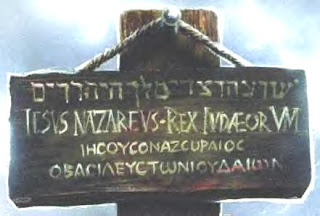
Comentários
Postar um comentário