Visitando o Direito Canônico
O Direito Canônico atual está
marcado fortemente por João Paulo II que o promulgou em 1983 e o interpretou em
várias ocasiões. Para ele, “o Direito deve respeitar e apoiar a dignidade da
pessoa humana e sua subjetividade fundamental, sua dimensão integral, seu bem,
seus direitos inalienáveis, sua liberdade” (p. 26). Tinha também como linha
fundamental da filosofia do Direito a determinação do trabalho como sendo o
campo de atuação do Direito onde o serviço à dignidade do ser humano deveria ser
prestado (p. 26). Para o papa a vida comunitária e social, mantendo o bem comum
no espírito de solidariedade, é que conduz ao amor (p. 26). Assim, não se deve
descuidar, em nenhuma instância, da verdade objetiva com respeito ao bem. Daí
que, “não basta a filosofia do direito, mas é preciso a teologia do direito” (p.
26). Surgem, então, pressupostos teológicos da noção de Direito: crença e fé,
antropologia teológica, natureza e cultura, natureza e graça, a Trindade como
identidade do humano, Cristo como ícone da Trindade e, tudo isso, resignificado
na teologia latino-americana (p. 26-33).
O mesmo papa considera em seus escritos,
os seguintes pontos fundamentais da antropologia teológica: 1) o ser humano é
criado à imagem de Deus; 2) o ser humano é dividido em si mesmo porque é
“vulnerável”; 3) para dar adesão a Deus, o ser humano é chamado a superar as
resistências da carne, dando valor salvífico à inevitável cruz que leva à
vitória, por força do Espírito Santo (p. 29). O conceito de relação em JPII é muito
importante, assim como em todas as antropologias teológicas do século XX. Em
última análise, a “identidade do ser humano está na Trindade” (p. 31) que é uma
relação de amor. Algo para salientar é que “quando falamos da pessoa humana, em
direito canônico, não se pode perder de vista este horizonte: trata-se da
pessoa criada-caída-redimida” (p. 33).
O papa Paulo VI via o mandamento
do amor a Deus e ao próximo como a fonte do Direito Canônico (p. 36). Embora
sendo “um complexo de leis emanadas pela autoridade competente para ordenar a
constituição da Igreja e regular nela o pastoreio dos fieis nas matérias que
são de competência da comunidade cristã” (p. 39), ele está submetido a estas
duas leis que Cristo deixou à sua Igreja. Assim, entre as várias definições,
pode-se dizer que “o Direito Canônico é a ‘teologia prática sobre as leis da
Igreja’ (Capello)” (p. 39) e “uma ciência teológica que se situa no ramo
prático, ou seja, reservado para as disciplinas teológicas que consideram
primeiramente a vida cristã” (p. 42). Historicamente, com os Santos Padres a
teologia se ocupava com o regimento da Igreja sem dividir-se, era uma visão
cristã do mundo. “Só em 1140, como o Decretum,
de Graciano, que a teologia apresenta-se dividida em duas grandes disciplinas:
Sagrada Escritura e Direito Canônico” (p. 46).
A esta altura, cabe esclarecer
alguns conceitos: o direito diz respeito aos direitos e deveres dos fieis
cristãos, a saber, todos os batizados. No que diz respeito aos deveres, os “que
são realizados com a alegria da caridade vêm primeiro” (p. 58). Entende-se por
lei o direito escrito (p. 48), mas há a lei eterna – providência de Deus – e a
lei natural, que nada mais é do que “a participação da criatura racional na
providência de Deus” (p. 47). Fala-se em Teonomia que significa “a razão
autônoma unida à sua própria profundidade” (p. 49). Diferencia-se direito
natural de direito positivo. O primeiro é o “que tem sua imediata origem na
própria natureza” e o segundo “o que vem da livre vontade do legislador” (p.
50). “O objeto material do Direito Canônico são as leis da Igreja” (p. 62). Já
o formal “é a fé cristã sob o ponto de vista da vivência da comunidade eclesial
em abertura e diálogo com outras igrejas, comunidades eclesiais, religiões e
mundo” (p. 62). Há também o método: teológico.
Todo o Direito Canônico está a
serviço da Igreja. Nos últimos quinhentos anos os teólogos falam em três
modelos de Igreja ou de eclesiologia: 1º Trento (Igreja: sociedade perfeita);
2º Vaticano II (Igreja: povo de Deus); 3º Latino-americana (Igreja dos pobres)
(p. 66). Importante é saber que “a autocompreensão da Igreja determina uma
noção de direito eclesial” (p. 81) e que este “é um instrumento de salvação,
obra do Espírito, um ‘direito sagrado, inteiramente distinto do direito
civil... por sua natureza, pastoral’” (p. 72). Sendo direito um dom de Deus que
se revela em Jesus pelo Espírito à Igreja, conta também com a resposta humana
par a construção do Reino, por isso a participação e comunhão dos fieis dá ao
Direito a capacidade de ser meio e instrumento de justiça neste mundo (p. 82).
São Leão Magno afirmava que “amar
a Deus e amar a justiça é a mesma coisa” (p. 86). “A justiça do Evangelho é aquela
virtude que, plenamente cumprida, se identifica com a caridade e edifica a
comunidade de fé, onde as pessoas reconhecem-se como irmãos” (p. 87). O Direito
é uma forma de garantir justiça, que deve ser pautado pela caridade. Isto
conduz à comunhão que, segundo a Constituição Sacare Disciplina eleges, é uma das bases do novo Código de Direito
Canônico. O Decreto Unitates
redintegratio, n.3, coloca na base da comunhão o batismo (p. 93). Para a
plena comunhão com a Igreja Católica há critérios: “pertença à mesma Igreja e
comunhão na fé, a comunhão no culto e nos sacramentos e a comunhão no governo”
(p. 93). Toda pessoa em comunhão, por isso fiel, tem a missão de evangelizar
“respondendo à sua vocação segundo sua própria condição histórica. O código
enumera as seguintes: idade, moradia, parentesco e rito” (p. 103).
Quanto aos direitos e deveres das
pessoas fieis há três cânones fundamentais que servem de moldura: o 208 que
fala da igualdade, o 209 que fala da comunhão e o 223 que trata do bem comum na
Igreja e o direito dos outros (p. 122). Todos têm o direito e o dever de
santificar e santificar-se, de empenhar-se no anúncio missionário, de se
relacionar com os ministros da Igreja, liberdade para praticar seu próprio rito
e viver sua espiritualidade própria de acordo com a Igreja, liberdade de
associação e reunião para fins conforme a Igreja, de promover e sustentar a
atividade apostólica, direito à formação integral nos ensinamentos cristãos,
liberdade de pesquisa e de expressão nas ciências sagradas. Liberdade de
escolha do próprio estado de vida, direito à boa fama e à própria intimidade,
direitos de caráter judiciário, dever de socorrer a Igreja em suas
necessidades, de promover a justiça social e a assistência aos pobres e dever
de promover o bem comum e o respeito aos direitos dos outros (cf. p. 122).
O Direito herda da teologia o conceito de que
“não há diferença no sacerdócio de Cristo, sempre uno e indivisível”, mas há
uma diferença no modo de participação que pode ser apenas pelo batismo ou pelo
batismo/ordem (p. 111). Este último é nominado pelo Código como ministro
sagrado ou clérigo porque, “além do batismo, coloca-se, por vocação e graça de
Deus, num serviço ordenado na Igreja” (p. 122). Todos os fieis batizados têm
liberdade para se ligarem a qualquer associação na Igreja, seja na forma
consagrada ou não (p. 122).
Como está sendo continuamente
lembrado, a Igreja anuncia o Reino de Deus e, para isto, tem meios de ação
evangelizadora. A missão da Igreja é evangelizar e há três aspectos desta única
missão: “anunciar (múnus de ensinar), celebrar (múnus de santificar), construir
(múnus de reger) o Reino” (p. 127). Destes, o ensinar é o primário. O Código
apenas fala dos direitos e deveres referentes a ele. A doutrina a respeito
“aparece em outros textos, especialmente os dos concílios” (p. 127). No que se
refere ao múnus e ao poder de governar ou dirigir o povo de Deus, não foi dado
“um livro exclusivo no atual” Código e está distribuída em diversas partes da
legislação (p. 146). Os ofícios eclesiásticos se dão quando alguém recebe a
autoridade para um determinado trabalho na comunhão eclesial. Para isto é
preciso uma documentação chamada “provisão do ofício”. Com eles um fiel pode
exercer funções jurídicas. Estas podem ser atos ou fatos jurídicos. O que distingue
um dom outro é a vontade (p. 133). “No ato jurídico, os efeitos são produzidos
pela lei, independente da intencionalidade da pessoas”; já o fato jurídico é
“um acontecimento puramente natural e necessário” como nascer e morrer (p.
133).
O Código apresenta atos do poder
legislativo que são as leis, no caso, eclesiásticas. “Duas importantes
características da lei eclesiástica são a equidade canônica (c.19) e a
epiquéia” (p. 134). A equidade, segundo Henrique de Susa (+1271) “é a justiça
temperada pela doçura da misericórdia” (p. 135). A epiqueia “é uma norma
subjetiva da consciência que, com seu juízo íntimo, se considera desculpada da
observância da lei em casos e circunstâncias particularmente difíceis. Diz
respeito mais à moral do que ao direito” (p. 135). A Igreja também tem os
Decretos usados para sua administração e que provem do poder executivo. É
praticado por quem tem o múnus de liderar o povo de Deus (p. 141). Também existe
o poder judiciário que, com tribunais e juízes, julga todos os processos que
possam surgir. Mas a Igreja, aposta mais no seu modo pastoral de “evangelizar
para a salvação integral de todas as pessoas” (p. 144) - poder de coersão -, do que na punição penal. No espírito de
participação e comunhão, com a distinção de ministérios e serviços, ela busca
viver sua missão dentro de uma organização do povo de Deus que favoreça o bem
comum e a vida plena.
Tratando ainda dos meios da evangelização
o Direito Canônico apresenta o ofício e o poder de santificar. A Igreja exerce
“o ofício de santificar quando reúne e organiza a comunidade na comunhão”,
quando evangeliza e quando realiza a celebração do mistério pascal de Cristo,
prestando culto a Deus (p. 149). Os sacramentos são os meios pela qual a Igreja
comunica a graça que recebeu aos fieis. O primeiro dele é o batismo, “uma
instituição de direito divino que torna um ser humano membro do povo de Deus”
(p. 155). Por ele se dá a iniciação cristã que é seguida da Crisma, onde “as
pessoas batizadas prosseguem o caminho da iniciação cristã” (p. 157). O cume
deste processo se dá com a Eucaristia (p. 157). “A celebração eucarística é
ação de toda Igreja” (p. 157), por isso possui um largo espaço na Código.
Existem como herança do Senhor os sacramentos terapêuticos ou de cura:
Penitência e Unção dos Enfermos. A “Confissão gera o perdão dos pecados
cometidos após o batismo, pelo arrependimento e propósito de emenda, mediante a
absolvição dada por um ministro legítimo. Pelo perdão dos pecados há
reconciliação com a Igreja” (p. 166). Estes sacramentos são manifestação da
solidariedade tanto no perdão como na doença, como garantia da vida em comunhão
(p. 180). Por fim temos os sacramentos diacônicos ou de serviço: Ordem e
Matrimônio. São modos distintos dos fieis consagrarem suas vidas na evangelização
(p. 180). Fazem parte ambos do sacerdócio único de Cristo (p. 168). Na Igreja
existem três ordens. Para a aceitação a cada qual há os requisitos, os
ordinários, as qualidades e as leis próprias (p. 170). “O matrimônio é a base
de Igreja doméstica” e o “instrumento privilegiado da ação evangelizadora” (p.
171). A família nasce dele e a ele o Código dá bastante abrangência. Há regras para a sua celebração, para a sua
validade ou nulidade, para os impedimentos; sua missão fica bem clara e a
diferenciação quanto a ritos diferentes e aos ministros.
A civilização do amor continua
sendo nossa esperança. Mesmo com um instrumento como o Código de Direito
Canônico a serviço da Igreja, cada dia mais se percebe que é preciso
aperfeiçoar. A Justiça precisa ser aquela do Reino e para isso é preciso que a
Igreja a busque como sempre vem buscando, uma vez que a justiça é “também
princípio da Igreja como Povo de Deus” (p. 184).

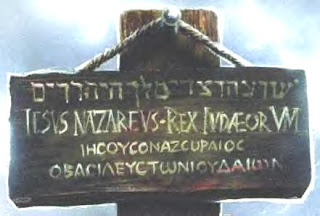
Comentários
Postar um comentário